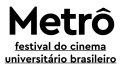Casa é uma palavra difícil
por Marcus Benjamin Figueredo
Se cada uma das sessões do 5º Festival Metrô for entendida como uma viagem por uma linha férrea, a Sessão 03, intitulada “Era uma casa…”, definitivamente não compreende um trajeto linear. Podemos entendê-la mais como um percurso errático, de alguém que está perdido em uma cidade (ou em um país) e que tenta dar sentido à realidade ao seu redor a partir daquilo que vê e projeta nas paredes das estações. Alguém que perambula perdido em seu próprio país, em sua própria casa, e não reconhece mais nem a ela nem a si mesmo.
Em um país em ruínas, é difícil saber se o transe é interno, ou seja, se sou eu que estou louco, ou se ele é externo, e é o mundo que está louco. A diferença, no final, talvez não importe, mas o que se faz com ela sim. O diretor baiano Edgard Navarro sabia disso, e expressou essa consciência de forma boçal (é um elogio) em seu coprófilo super-8 O Rei do Cagaço, de 1977, repleto de personagens que manifestam sua iconoclastia atirando merda contra os monumentos de um mundo organizado e organizador. Por que estou falando de um filme dos anos 70? Porque o primeiro filme da Sessão 03 do Metrô, intitulado Filme de Merda, é essencialmente um remix da obra de Navarro.
Boa parte do curta dirigido por Bonfim Dias, Ezeqqi, João de Melo Pinheiro e Lucas Honorato, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), é composta por samples visuais roubados do diretor baiano. Se O Rei do Cagaço já tinha, naturalmente, um forte potencial para se transformar em meme (no melhor sentido da coisa), Filme de Merda realizou esse destino e o atualizou para a tal era da informação. Em uma mistura caótica de mídias, o filme nos atira os registros de fezes em live action emprestadas de Navarro ao mesmo tempo que nos mostra imagens animadas de fezes, além de um pato e um homem que dançam ao som de Daft Punk. A tudo isso, soma-se a voz de Antônio Abujamra declamando “Lisbon Revisited 1923”, de Álvaro de Campos, que também acrescenta ao discurso desorganizador do filme. Os jovens realizadores comeram Edgard Navarro, e o resultado da digestão se encaixa naquilo que, nas palavras do diretor baiano, “os psicólogos chamariam de comportamento anal sádico”. Talvez atirar merda pra todo lado funcione.
Na próxima parada, algo mais leve. Nem só de delírio se faz um delírio. O filme Perdi o controle, realizado pelos amigos (claramente amigos) Sid, Léo e Diogo, da UNISUL, nos mostra três sujeitos que, enquanto assistem a um jogo de futebol, são interrompidos pela súbita troca de canal na televisão. Sem conseguir encontrar o controle remoto, eles partem em uma busca descontrolada pelo apartamento. Os diretores referenciam filmes cômicos e episódios de desenho animado clássicos, como a cena em que os personagens entram pela porta de um quarto e, em seguida, no mesmo plano, saem pela porta de outro, com roupas diferentes. Nem tão inventivo, mas diverte. Ah, e deve ter dado muito trabalho adestrar aquele pombo.
Antes de irmos para o próximo filme, nossa próxima estação, quero mandar um beijo pra as vinhetas do Metrô, dirigidas por Gabriel Borges, Ju Choma, e Rodrigo Tomita. Elas também fazem parte do transe, e também parecem apontar algum caminho pra casa (ou pro lado oposto).
Na parte seguinte do trajeto, quando nos é apresentado o filme De uma tarde sem grandes eventos, de Lucas Mancini, da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), temos uma espécie de descarrego. Pouco se apreende do discurso do filme, o que também não interfere em nada, já que uma câmera veloz e sempre atenta, digna de Cassavetes, e uma montagem rítmica nos levam por uma caminho às vezes intrigante, outras vezes angustiante, ao longo do qual assistimos ao ritual de um ritual. A preparação do ritual. Que ritual é esse nós não sabemos, já falei, não interessa, o ponto é justamente o que se sente ao longo do preparo do referido ritual. A hecatombe de expectativas e antecipações.
A performance de Jhon Maoli, que se mela de tinta, urina num tonel flamejante, dança e se contorce na folhagem, dá o tom de um personagem perdido, que parece querer se libertar, fugir. Parece que, no meio da floresta, ele tenta invocar e embarcar numa viagem que o leve para longe, para um lugar que talvez cumpra melhor a função de uma casa, já que a sua está em ruínas.
O próximo curta também vem de um aluno da UNESPAR. Aquele que criou o cordeiro também te criou?, dirigido por João Roberto, pode ser entendido como uma releitura contemporânea do experimento realizado pelo cineasta e teórico russo Lev Kuleshov. O experimento é simples, e buscava estabelecer as bases para a compreensão da montagem e seu papel na linguagem do cinema. Nele, vemos o mesmo plano de um homem, com uma expressão neutra, intercalado pelos planos de um prato de sopa, um caixão com uma criança e uma mulher sedutora. De acordo com Kuleshov, o experimento seria a prova de que o significado no cinema vem das conexões entre os sucessivos planos. Quando vemos o homem e em seguida o prato de sopa, entendemos que ele está com fome. No entanto, quando vemos o homem com a mesma expressão, mas no lugar da sopa está o caixão da criança, interpretamos sua reação de forma completamente diferente: agora é luto. O sentido está no choque das imagens (isso foi antes do cinema sonoro).
No filme de João Roberto, ao invés do prato de sopa, do caixão e da mulher no sofá, temos uma tela de computador, mensagens de texto e um nude. A única coisa que não muda é o sujeito com uma expressão neutra (se é que isso existe). Somam-se a essas imagens a narração de uma mulher, cujas palavras dizem: “O homem vê o prato, ele não está farto. O homem vê a moça, espero que ele ouça. O homem vê o caixão, esqueça tudo então”. O protagonista passa o filme inteiro sendo produzido pelo que vê, escuta e deseja.
Tanto na camada narrativa quanto na formal, o filme trabalha reflexões em torno do desejo. Mais do que isso, o curta nos lembra que os desejos que atingem o protagonista (mas também qualquer outro personagem de qualquer outro filme), jamais deixam de transbordar a tela do cinema. A recepção é uma constante pétrea do cinema, e a manipulação dos sentidos proporcionada pela montagem e pelos demais elementos da linguagem cinematográfica nos atinge, sempre, no nível do desejo, e é aí, na medida em que constrói fantasias e mundos, que reside o potencial político do cinema.
Nos próximos dois filmes, as duas últimas estações em nossa viagem delirante em busca de uma casa, somos confrontados por duas verdades estruturais dolorosamente complementares e ao mesmo tempo fundamentais para uma compreensão aprofundada do empreendimento que é a destruição brasileira. A primeira, proposta pelo curta Diatribe, é a de que o genocídio indígena está em curso e se intensifica a cada dia. A segunda, apresentada pela obra Oribatã Cuieté, é a de que são justamente esses povos originários os guardiões da cosmovisão que poderia, talvez, nos ajudar a fugir das ruínas.
Diatribe, realizado por Wladymir Lima, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), é um filme recheado de elementos de ficção científica distópica. O roteiro nos apresenta um relatório feito no final do século XXI, de acordo com o qual todos os povos indígenas do mundo foram mortos após a disseminação de um vírus sintético produzido com o fim deliberado de extermínio étnico. Não bastasse isso, todos os registros culturais dos povos originários foram completamente destruídos, com exceção de alguns cartões de memória que guardavam imagens distorcidas e de péssima qualidade. Depois de analisadas por uma Inteligência Artificial, as imagens distorcidas serviram de fonte para a criação do que seria uma imagem aproximada de uma mulher indígena, talvez a última a ter seu rosto registrado.
Neste ponto, o filme se aproxima do cinema de found footage, mas, em Diatribe, as imagens encontradas em um cartão de memória esquecido não estavam exatamente prontas para serem analisadas por olhos humanos. Antes disso, precisavam passar por uma etapa de tradução, logo, síntese, realizada por uma máquina. O filme nos faz pensar sobre quais serão os registros que, diante do neoliberalismo piromaníaco, permanecerão, e, mais do que isso, para quem esses registros serão exibidos.
Já em Oribatã Cuieté, realizado por Sulamita Marques, estudante da Universidade Federal do Espírito Santo, sentimos na pele um sopro de esperança, não a esperança do tipo inebriante, mas uma que nos mantém alertas. Uma das reflexões mais marcantes do curta diz respeito ao poder do som e da música, seus atributos históricos, materiais e mágicos. “O som é uma forma de tocar o corpo”, diz Sulamita em seu filme caseiro, gravado e montado num aparelho celular. Os sons da floresta e dos espíritos que nela habitam são registros capazes de, literalmente, nos imergir. Tanto na floresta quanto na sala de cinema, nossos corpos estão quase que todo o tempo submersos em som. Tanto a floresta quanto o cinema são, essencialmente, espaços férteis aos exercícios de sonhar, desejar e realizar novos mundos. E talvez essa seja uma boa definição para escorregadia palava “casa”.